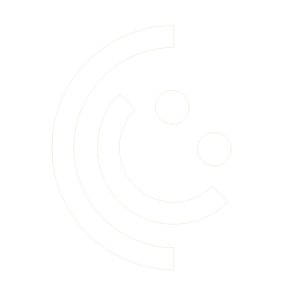Não consigo ouvir o som dos meus passos enquanto caminho em direção à morte.
É esquisito, considerando que, poucas horas atrás, era exatamente o contrário disso o que me aborrecia. Eu havia calçado as sandálias de borracha da minha mãe porque acabaram sendo a melhor opção depois que perdi meu único par de sapatos; só que eram muito velhas e faziam um barulho odioso, como se chapinhassem em poças d’água cada vez que eu pisava. Mas agora que a cabine com isolamento acústico as deixou silenciosas, confesso que preferia ouvir aquele chapinhar ao som descompassado da minha respiração.
Não é engraçado como o que nos incomoda pode se tornar irrelevante diante de algo pior?
Antes que eu tenha a chance de zombar da ironia na reflexão, uma voz feminina e mecânica reverbera, cortando o silêncio da câmara de extermínio com a mesma sentença que ouvi nos alto-falantes da praça, logo antes de ser arrastada até aqui:
“Dos inimigos da paz e segurança social, que se rebelam contra a Armada que nos mantém a salvo do vírus e unidos como nação, decretamos a execução de Helsye Agris, da família de Ayah, por ataque violento e inescrupuloso à família de um agente da segurança pública de Kyresia.”
Eu só acho que “ataque violento e inescrupuloso” foi um pouco de exagero. O que aconteceu na verdade foi que um garoto idiota — e, provavelmente, bêbado — tentou me beijar à força na noite anterior durante a Festa dos Sobreviventes. Uma celebração popular no país. A música estava alta, eu me empanturrava com tudo que conseguia estocar no estômago depois de quase dois dias sem comer, e ele se aproximou sem que eu percebesse. Senti o azedo do álcool assim que o verme abriu a boca e se jogou em cima de mim. Então, logo em seguida, ele acabou com o nariz levemente…
Quebrado.
Pelo menos foi um soco extremamente satisfatório. Juro, meu cotovelo estava em um ângulo perfeito. Meu punho cerrado na medida certa. Eu o acertei com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás como se estivesse em câmera lenta. A liberação de raiva eletrizou todo o meu corpo, e eu ainda esboçava um sorrisinho quando ele se levantou e disse:
— Você está morta.
E não é que estava falando sério?
— Coloque o braço no local indicado — diz outra vez a voz robótica, me trazendo de volta ao presente.
Tenho um espasmo quando algo pontiagudo perfura minha pele e encaro meu reflexo distorcido na parede metálica enquanto espero. Minha cor parece acinzentada por causa da iluminação bruxuleante das lâmpadas, e as tranças no meu cabelo estão frouxas devido à delicadeza com que fui trazida pelos Exatores, como são chamados os soldados da Armada kyresiana.
Não sei dizer quanto tempo se passou desde que a porta foi fechada até que eu terminasse de percorrer o corredor sinuoso e chegasse ao orifício na parede. O isolamento acústico absorveu o som dos meus passos e me fez perder a noção do tempo. Estar em silêncio absoluto, ouvindo apenas a minha respiração e as batidas do meu coração, é como um prenúncio da agonia que está por vir.
Enquanto observo minha imagem no reflexo, sozinha nesse corredor, minha ficha começa a cair aos poucos. Tento pensar em algo positivo, em alguma piadinha, porque foi assim que sobrevivi nessa droga de realidade, mas não sobrou mais nada. Vou mesmo morrer.
E minha vida foi um desperdício.
— O vírus no seu organismo começará a fazer efeito em cinco minutos — continua a voz mecânica. — Siga em frente e abra a porta. Nunca olhe para cima.
Sorrio com a idiotice do lema da Armada: Não olhe para cima. Para mim, soa como “Não espere por coisas melhores. Não questione as injustiças ou as decisões de quem é superior a você. Porque você é um nada para o governo”.
Que baboseira infernal.
O caminho agora se torna um pouco mais difícil. Minhas pernas parecem pesadas, e eu mal sustento o peso do meu corpo. Começo a me sentir claustrofóbica no túnel, minha respiração acelera, minha visão foca e desfoca. Aperto os lábios ao chegar diante da porta e decido acabar logo com isso.
Fecho os olhos. Seguro a respiração. Giro a maçaneta.
E o cheiro de morte é a primeira coisa que sinto.